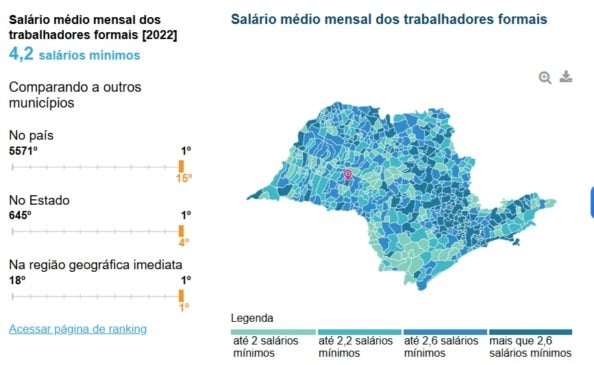Na manhã de 11 de agosto de 2025, em Belo Horizonte, o gari Laudemir de Souza Fernandes, de 44 anos, tombou morto durante o trabalho. O disparo partiu de Renê da Silva Nogueira Júnior, empresário de 47 anos, que sacou uma pistola calibre .380 — registrada em nome de sua esposa, a delegada de polícia Ana Paula Balbino Nogueira — após uma discussão de trânsito banal. As câmeras registraram a frieza: depois de atirar, guardou a arma na mochila e seguiu sua rotina, sendo encontrado horas mais tarde em uma academia.
Não era um homem sem passado. Renê acumulava um histórico de violência: agressões contra ex-companheiras, um atropelamento fatal no Rio de Janeiro em 2011, ocorrências em São Paulo. Nada disso, porém, o impediu de continuar circulando como alguém de prestígio, com diplomas inventados, currículos inflados e a blindagem que só os privilégios sociais costumam garantir.
O disparo que matou Laudemir não foi apenas um gesto isolado. Foi o estalo de uma sociedade inteira: cansada demais para reagir à banalização da violência e líquida demais para se lembrar. Renê, amparado por privilégios e vaidades, expôs em segundos a verdade que Zygmunt Bauman e Byung-Chul Han já haviam anunciado: vivemos em um tempo em que a vida do outro é facilmente descartável.
Bauman tratou da dissolução dos laços, que escorrem entre os dedos como água. Han, por sua vez, descreveu o esgotamento de um mundo que exige apenas performance e produtividade, onde o outro se torna invisível. E Guy Debord, décadas antes, advertiu que tudo isso se converte em espetáculo: um fluxo incessante de imagens que reduz a dor a consumo breve, digerido sem reflexão, esquecido sem culpa — até que a próxima tragédia ocupe a cena.
Mas há algo que resiste ao esquecimento: o sangue que escorre no asfalto. Ele denuncia a falência do coletivo e a violência de uma época que cobra de todos, mas não exige nada de quem tem privilégios.